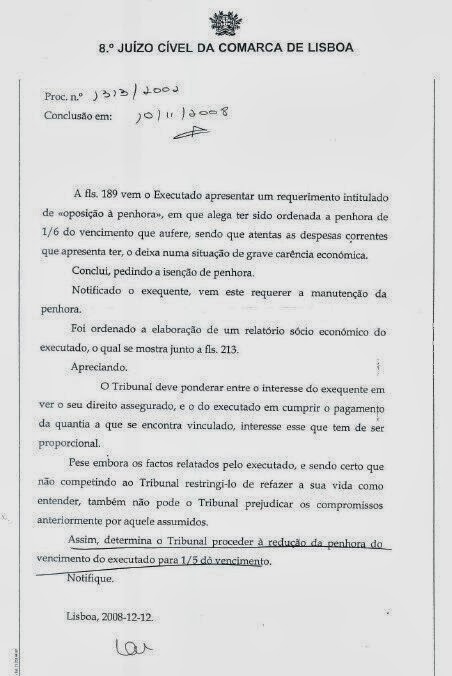Giorgio Agamben
A segurança está entre aquelas
palavras com sentidos tão abrangentes que nós nem prestamos mais muita
atenção ao que ela significa. Erigido como prioridade política, esse
apelo à manutenção da ordem muda constantemente seu pretexto (a
subversão política, o terrorismo…), mas nunca seu propósito: governar as
populações
A expressão “por razões de segurança”
funciona como um argumento de autoridade que, cortando qualquer
discussão pela raiz, permite impor perspectivas e medidas inaceitáveis
sem ela. É preciso opor-lhe a análise de um conceito de aparência banal,
mas que parece ter suplantado qualquer outra noção política: a
segurança.
Poderíamos pensar que o objetivo das
políticas de segurança seja simplesmente prevenir os perigos, os
problemas ou mesmo as catástrofes. A genealogia remonta a origem do
conceito ao provérbio romano “Salus publica suprema lex” – “A salvação
do povo é a lei suprema” – e, assim, a inscreve no paradigma do estado
de exceção. Pensemos nosenatus consultum ultimum e na ditadura em Roma;1 no
princípio do direito canônico, segundo o qual “necessitas legem non
habet” (“necessidade não tem lei”); nos Comitês de Salvação Pública2 durante
a Revolução Francesa; ou ainda no artigo 48 da Constituição de Weimar
(1919), fundamento jurídico do regime nacional socialista, que
igualmente mencionava a “segurança pública”.
Embora correta, essa genealogia não
permite compreender os dispositivos de segurança contemporâneos. Os
procedimentos de exceção visam uma ameaça imediata e real, que deve ser
eliminada ao se suspender por um período limitado as garantias da lei;
as “razões de segurança” de que falamos hoje constituem, ao contrário,
uma técnica de governo normal e permanente.
Mais do que no estado de exceção, Michel Foucault3 aconselha
procurar a origem da segurança contemporânea no início da economia
moderna, em François Quesnay (1694-1774) e nos fisiocratas.4 Se pouco depois do Tratado de Vestfália (1648)5 os
grandes Estados absolutistas introduziram em seus discursos a ideia de
que a soberania deveria velar pela segurança de seus súditos, foi
preciso esperar Quesnay para que a seguridade – ou melhor, a “segurança”
– se tornasse o conceito central da doutrina do governo.
Seu artigo consagrado aos “Grãos” na
Enciclopédia permanece, dois séculos e meio depois, indispensável para
compreender o modo de governo atual. Voltaire diz que, desde que esse
texto surgiu, os parisienses pararam de discutir teatro e literatura
para falar de economia e agricultura… Um dos principais problemas que os
governos então precisavam enfrentar era o da escassez de alimento e a
fome. Até Quesnay, eles tentavam preveni-los criando celeiros públicos e
proibindo a exportação de grãos. Mas essas medidas preventivas tinham
efeitos negativos sobre a produção. A ideia de Quesnay foi inverter o
procedimento: em vez de tentar prevenir a fome, era preciso deixá-la
acontecer e, pela liberação do comércio exterior e interior, governá-la
quando ocorresse. “Governar” retoma aqui seu sentido etimológico: um bom
piloto – aquele que detém o governo – não pode evitar a tempestade,
mas, se ela ocorre, ele deve ser capaz de dirigir seu barco.
É nesse sentido que devemos compreender a
expressão atribuída a Quesnay, mas que, na verdade, ele nunca escreveu:
“Laisser faire, laisser passer”. Longe de ser apenas a divisa do
liberalismo econômico, ela designa um paradigma de governo que situa a
segurança – Quesnay evoca a “segurança dos agricultores e trabalhadores”
– não na prevenção dos problemas e desastres, mas na capacidade de
canalizá-los numa direção útil.
É preciso considerar a implicação
filosófica dessa inversão que perturba a relação hierárquica tradicional
entre as causas e os efeitos: pois é vão, ou de qualquer modo custoso,
governar as causas, é mais útil e mais seguro governar os efeitos. A
importância desse axioma não é negligenciável: ele rege nossas
sociedades, da economia à ecologia, da política externa e militar às
medidas internas de segurança e de polícia. É ele também que permite
compreender a convergência antes misteriosa entre um liberalismo
absoluto na economia e um controle de segurança sem precedentes.
Tomemos dois exemplos para ilustrar essa
aparente contradição. Primeiro, o da água potável. Ainda que se saiba
que esta vai logo faltar numa grande parte do planeta, nenhum país segue
uma política séria para evitar seu desperdício. Ao contrário, vê-se se
desenvolverem e se multiplicarem, nos quatro cantos do globo, as
técnicas e usinas para o tratamento de águas poluídas – um mercado
considerável no futuro.
Segundo exemplo. Consideremos no presente
os dispositivos biométricos, que são um dos aspectos mais inquietantes
das tecnologias de segurança atuais. A biometria surgiu na França na
segunda metade do século XIX. O criminologista Alphonse Bertillon
(1853-1914) se apoiaria na fotografia signalética e nas medidas
antropométricas para constituir seu “retrato falado”, que utiliza um
léxico padronizado para descrever os indivíduos numa ficha com seus
sinais. Pouco depois, na Inglaterra, um primo de Charles Darwin e grande
admirador de Bertillon, Francis Galton (1822-1911), desenvolveu a
técnica das impressões digitais. Esses dispositivos, evidentemente, não
permitem prevenir os crimes, mas perseguir criminosos reincidentes.
Encontramos aqui ainda a concepção de segurança dos fisiocratas: é
apenas com o crime cometido que o Estado pode intervir com eficácia.
Pensadas para os delinquentes recidivos e
os estrangeiros, as técnicas antropométricas permaneceram por muito
tempo privilégio exclusivo deles. Em 1943, o Congresso dos Estados
Unidos recusou o Citizen Identification Act (Ato de Identificação do
Cidadão), que visava dotar todos os cidadãos de carteiras de identidade
com suas impressões digitais. Foi apenas na segunda metade do século XX
que elas se generalizaram. Mas a última novidade aconteceu há pouco
tempo. Os scanners ópticos, que permitem revelar rapidamente as
impressões digitais e também a estrutura da íris, fizeram os
dispositivos biométricos sair das delegacias de polícia para ancorar na
vida cotidiana. Em certos países, a entrada nas cantinas escolares é
controlada por um dispositivo de leitura óptica sobre o qual a criança
pousa a mão distraidamente.
Leis mais severas que no fascismo
Preocupações se acumulam sobre os perigos
de um controle absoluto e sem limites por parte de um poder que
disporia de dados biométricos e genéticos de seus cidadãos. Com essas
ferramentas, o extermínio dos judeus (ou qualquer outro genocídio
imaginável), baseado numa documentação incomparavelmente mais eficaz,
teria sido total e extremamente rápido. Em matéria de segurança, a
legislação hoje em vigor nos países europeus é, em certos aspectos,
sensivelmente mais severa do que a dos Estados fascistas do século XX.
Na Itália, um texto único das leis sobre segurança pública (Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Tulsp) adotado em 1926 pelo regime de
Benito Mussolini está, no essencial, ainda em vigor; mas as leis contra
o terrorismo votadas durante os “anos de chumbo” (de 1968 ao início dos
anos 1980) restringiram sensivelmente as garantias nele contidas. Como a
legislação francesa contra o terrorismo é ainda mais rigorosa que sua
homóloga italiana, o resultado de uma comparação com a legislação
fascista não seria muito diferente.
A crescente multiplicação de dispositivos
de segurança testemunha uma mudança na conceituação política, a ponto
de podermos legitimamente nos perguntar não apenas se as sociedades em
que vivemos ainda podem ser qualificadas de democráticas, mas também e
acima de tudo se elas ainda podem ser consideradas sociedades políticas.
No século V a.C., como demonstrou o
historiador Christian Meier, uma transformação do modo de conceber a
política já tinha se produzido na Grécia, por meio da politização (Politisierung)da cidadania. Uma vez que o pertencimento à cidade (a polis)
era até então definido pelo estatuto e pela condição – nobres e membros
das comunidades culturais, agricultores e comerciantes, senhores e
clientes etc. –, o exercício da cidadania política se tornou um critério
da identidade social. “Cria-se assim uma identidade política
especificamente grega, na qual a ideia de que os indivíduos devem se
conduzir como cidadãos encontra uma forma institucional”, escreve Meier.
“O pertencimento a grupos constituídos com base nas comunidades
econômicas ou religiosas foi relegado a segundo plano. À medida que os
cidadãos de uma democracia se dedicavam à vida política, eles
compreendiam a si mesmos como membros da polis. Polis epoliteia,
cidadee cidadania, se definem reciprocamente. A cidadania se torna
assim uma atividade de uma forma de vida para aqueles para quem a polis, a cidade, constituía um domínio claramente distinto deoikos, a casa. A política se tornou um espaço público livre, oposto enquanto tal ao espaço privado onde reinava a necessidade.”6 Segundo
Meier, esse processo de politização especificamente grego foi
transmitido como herança à política ocidental, na qual a cidadania
permaneceu – com altos e baixos, certamente – o fator decisivo.
É precisamente esse fator que hoje está
se revertendo de modo progressivo: trata-se de um processo de
despolitização. Antes limiar da politização ativa e irredutível, a
cidadania se tornou uma condição puramente passiva, em que a ação ou a
inação, o público e o privado se desvanecem e se confundem. O que se
concretizava por uma atividade cotidiana e uma forma de vida se limita
hoje a um estatuto jurídico e ao exercício de um direito de voto cada
vez mais parecido com uma pesquisa de opinião.
“Todo cidadão é um terrorista potencial”
Os dispositivos de segurança têm
desempenhado um papel decisivo nesse processo. A extensão progressiva a
todos os cidadãos das técnicas de identificação outrora reservadas aos
criminosos inevitavelmente afeta a identidade política. Pela primeira
vez na história da humanidade, a identidade não é mais função da
“pessoa” social e de seu reconhecimento, do “nome” e da “nominação”, mas
de dados biológicos que não podem manter nenhuma relação com o sujeito,
como os rabiscos sem sentido que meu polegar molhado de tinta deixou
sobre a folha de papel ou a inscrição de seus genes na dupla hélice do
DNA. O fato mais neutro e mais privado se torna assim o veículo de
identidade social, removendo seu caráter público.
Se critérios biológicos, que em nada
dependem da minha vontade, determinam minha identidade, então a
construção de uma identidade política se torna problemática. Que tipo de
relação eu posso estabelecer com minhas impressões digitais ou com meu
código genético? O espaço da ética e da política que estamos acostumados
a conceber perde seu sentido e exige ser repensado a partir do zero.
Enquanto a cidadania grega se definia pela oposição entre o privado e o
público, a casa (sede da vida reprodutiva) e a cidade (lugar do
político), a cidadania moderna parece evoluir numa zona de
indiferenciação entre o público e o privado, ou, para tomar emprestadas
as palavras de Thomas Hobbes, entre o corpo físico e o corpo político.
Essa indiferenciação se materializa na
videovigilância das ruas em nossas cidades. Tal dispositivo conheceu o
mesmo destino que o das impressões digitais: concebido para prisões, ele
tem sido progressivamente estendido para os lugares públicos. Um espaço
videovigiado não é mais uma ágora, não tem mais nenhuma característica
pública; é uma zona cinzenta entre o público e o privado, a prisão e o
fórum. Tal transformação tem uma multiplicidade de causas, entre as
quais o desvio do poder moderno em relação à biopolítica ocupa lugar
especial: trata-se de governar a vida biológica dos indivíduos (saúde,
fecundidade, sexualidade etc.), e não mais apenas exercer uma soberania
sobre o território. Esse deslocamento da noção de vida biológica para o
centro da vida política explica o primado da identidade física sobre a
identidade política.
Mas não podemos esquecer que o
alinhamento da identidade social com a corporal começou com a
preocupação de identificar os criminosos recidivos e os indivíduos
perigosos. Portanto, não é surpreendente que os cidadãos, tratados como
criminosos, acabem por aceitar como evidente que a relação normal entre o
Estado e eles seja a suspeita, o fichamento e o controle. O axioma
tácito, que é preciso aqui arriscar a anunciar é: “Todo cidadão –
enquanto ser vivente – é um terrorista potencial”. Mas o que é um
Estado, o que é uma sociedade regida por tal axioma? Podem ainda ser
definidos como democráticos ou mesmo como políticos?
Em seus cursos no Collège de France e também em seu livro Vigiar e punir,7 Foucault
esboça uma classificação tipológica dos Estados modernos. O filósofo
mostra como o Estado do Antigo Regime, definido como um Estado
territorial ou de soberania, cuja divisa era “fazer morrer e deixar
viver”, evoluiu progressivamente para um Estado de população em que a
população demográfica substitui o povo político e para um Estado de
disciplina, cuja divisa se inverte em “fazer viver e deixar morrer”: um
Estado que se ocupa da vida dos sujeitos para produzir corpos sãos,
dóceis e disciplinados.
O Estado em que vivemos hoje na Europa
não é um Estado de disciplina, mas – segundo a expressão de Gilles
Deleuze – um “Estado de controle”: ele não tem por objetivo ordenar e
disciplinar, mas gerir e controlar. Depois da violenta repressão das
manifestações contra o G8 de Gênova, em julho de 2001, um funcionário da
polícia italiana declarou que o governo não queria que a polícia
mantivesse a ordem, mas gerasse a desordem. Por sua vez, os intelectuais
norte-americanos que tentaram refletir sobre as mudanças
constitucionais induzidas pelo Patriot Act (Lei Patriótica) e a
legislação pós-11 de Setembro8 preferem falar de “Estado de segurança” (security State). Mas o que quer dizer “segurança” aqui?
Durante a Revolução Francesa, essa noção
estava implicada com aquela de polícia. A lei de 16 de março de 1791 e
depois a de 11 de agosto de 1792 introduziram na legislação francesa a
ideia, que teria uma longa história na modernidade, de “polícia de
segurança”. Nos debates precedentes à adoção dessas leis, parecia claro
que polícia e segurança se definiam reciprocamente; mas os oradores –
entre os quais Armand Gensonné, Marie-Jean Hérault de Séchelles, Jacques
Pierre Brissot – não foram capazes de definir nem uma coisa nem outra.
As discussões se mantiveram essencialmente nas relações entre a polícia e
a justiça. Segundo Gensonné, trata-se de “dois poderes perfeitamente
distintos e separados”; e, portanto, enquanto o papel do Poder
Judiciário é nítido, o da polícia parece impossível de definir.
A análise do discurso dos deputados
mostra que o lugar da polícia é impossível de ser decidido, e deve
continuar assim, pois se estivesse inteiramente absorvida pela justiça a
polícia não poderia mais existir. É a famosa “margem de apreciação” que
ainda hoje caracteriza a atividade do agente de polícia: em relação à
situação concreta que ameaça a segurança pública, ele age com soberania.
Fazendo assim, não decide nem prepara – como se diz erroneamente – a
decisão do juiz: toda decisão implica causas e a polícia intervém sobre
os efeitos, isto é, sobre algo que não pode ser decidido.
Esse não decidido não se chama mais, como no século XVII, de “razão de Estado”, mas de “razões de segurança”. O security State é,
portanto, um Estado de polícia, mesmo que a definição de polícia
constitua um buraco negro na doutrina do direito público: quando no
século XVIII surgiu na França o Traité de la police, de Nicolas de La Mare, e na Alemanha a Gesamte Policey-Wissenschaft, de Johann Heinrich Gottlob von Justi, a polícia foi reduzida à sua etimologia de politeia e
tende a designar a política verdadeira, indicando o termo “política”
nessa época apenas a política externa. Von Justi nomeia assim Politik a relação de um Estado com os outros e Polizei a relação de um Estado consigo mesmo: “A polícia é a relação de força de um Estado consigo mesmo”.
Ao se colocar sob o signo da segurança, o Estado moderno deixa o domínio da política para entrar numa no man’s land em
que mal se percebem a geografia e as fronteiras e para a qual nos falta
conceituação. Esse Estado, cujo nome remete etimologicamente a uma
ausência de preocupação (securus: sine cura), nos deixa ainda
mais preocupados com os perigos a que ele expõe a democracia, já que a
via política se tornou impossível; pois democracia e vida política são –
ao menos em nossa tradição – sinônimos.
Diante de tal Estado, é preciso repensar
as estratégias tradicionais de conflito político. No paradigma
securitário, todo conflito e toda tentativa mais ou menos violenta de
reverter o poder oferecem ao Estado a oportunidade de administrar os
efeitos em interesse próprio. É isso que mostra a dialética que associa
diretamente terrorismo e reação do Estado numa espiral viciosa. A
tradição política da modernidade pensou nas transformações políticas
radicais sob a forma de uma revolução que age como o poder constituinte
de uma nova ordem constituída. É preciso abandonar esse modelo para
pensar mais numa potência puramente destituinte, que não fosse captada
pelo dispositivo de segurança e precipitada na espiral viciosa da
violência. Se quisermos interromper o desvio antidemocrático do Estado
securitário, o problema das formas e dos meios de tal potência
destituinte constitui a questão política essencial que nos fará pensar
durante os próximos anos.
Giorgio Agamben é um filósofo italiano. Texto originalmente publicado no Le Monde Diplomatique.
Notas:
1 Em casos graves, a República
romana previa a possibilidade de confiar, de modo excepcional, plenos
poderes a um magistrado (o ditador).
2 Comitês que deviam proteger a República contra os perigos de invasão e da guerra civil.
3 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)[Segurança, território e população. Curso no Collège de France (1977-1978)], Gallimard/Seuil, Paris, 2004.
4 A fisiografia baseia o desenvolvimento econômico na agricultura e defende a liberdade do comércio e da indústria.
5 O Tratado de Vestfália encerrou a
Guerra dos Trinta Anos opondo o campo dos Habsburgos, apoiados pela
Igreja Católica, e os Estados alemães protestantes do Sacro Império. Ele
inaugura uma ordem europeia fundada nos Estados-nação.
6 Christian Meier, “Der Wandel der politisch-sozialen Begriffswelt im V Jahrhundert v.Chr.”. In: Reinhart Koselleck (org.), Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Klett-Cotta, Stuttgart, 1979.
7 Michel Foucault, Surveiller et punir [Vigiar e punir], Gallimard, Paris, 1975.
8 Ler Chase Madar, “Recrudescimento do aparato de segurança norte-americano”, Le Monde Diplomatique Brasil, out. 2012.
Fonte:http://norbertobobbio.wordpress.com/2014/02/03/como-a-obsessao-por-seguranca-muda-a-democracia/